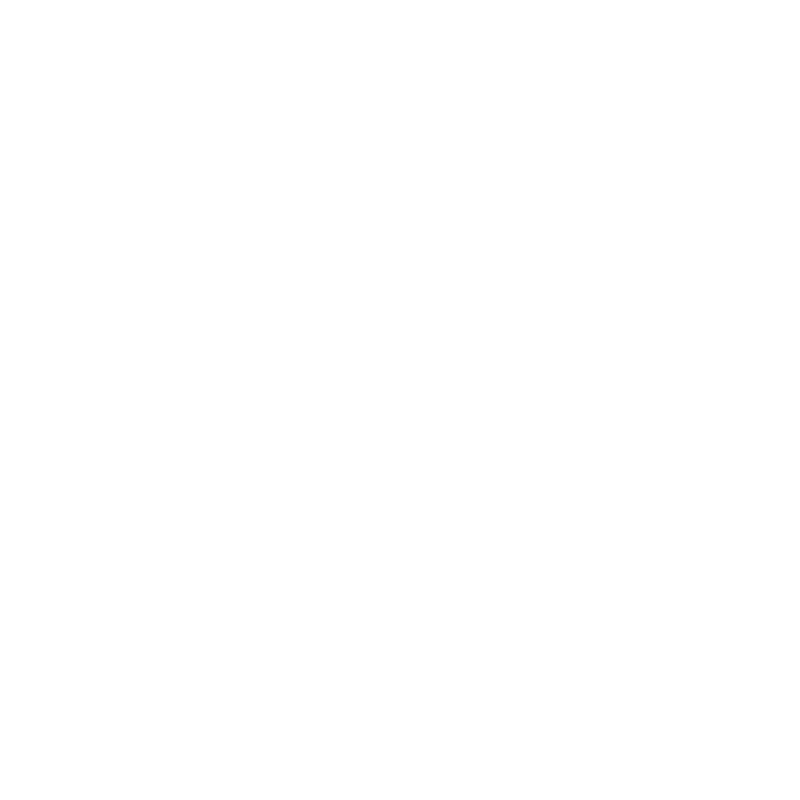Muito além da educação ambiental
As crises hídrica e energética deflagradas em boa parte do país hoje têm suscitado intensos debates. Entre os muitos comentários, frequentemente se fala que parte da responsabilidade pela crise é nossa, de nós brasileiros que desperdiçamos e consumimos irresponsavelmente. Como desdobramento lógico, ressalta-se a importância de se ensinar, sobretudo as novas gerações, sobre a finitude dos recursos naturais e a necessidade de agirmos responsavelmente em relação a eles. Claro que este tipo de argumento silencia sobre as causas estruturais da crise, sua conexão com a desigualdade social e investimentos equivocados ou insuficientes na infraestrutura. Mas, sem dúvida que a questão educacional também tem sua importância.
De fato, este tipo de conteúdo já é ensinado nas escolas desde os anos 70. Provavelmente em decorrência da I Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu em 1972 em Estocolmo. Mas, naquele tempo, o conteúdo da educação ambiental era ensinado como tudo na escola: descolado das experiências e vivências dos estudantes. A experiência cotidiana confirmava a ilusão da infinidade dos recursos naturais e o mero discurso didático jamais é suficiente para a tomada de consciência da realidade global, do tipo de relações que os seres humanos estabelecem entre si e com a natureza, das causas e consequências destas relações.
Depois, vieram a Eco-92, os Parâmetros Curriculares Nacionais e, em 99, finalmente a educação ambiental se tornou lei, como “um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.” Espalharam-se, então, cursos livres de educação ambiental para interessados em geral e, dentro das escolas, os temas ambientais se tornaram transversais.
Os programas de educação ambiental comumente visam habilitar as pessoas a utilizar energia com maior eficiência, priorizar os recursos renováveis e eliminar o conceito de resíduos, reciclando ou reaproveitando os materiais. Nas escolas, os conceitos que subjazem estas escolhas são ensinados principalmente nas aulas de ciências e geografia.
Há, no entanto, potencial para fazer bem mais do que isso. Esta potência se encontra na opção da escola por ser ela mesma uma agente socioambiental. Na medida de um serviço público que tem em sua missão a educação, em sua estrutura uma equipe multidisciplinar de profissionais, e que recebe cotidianamente um bom contingente de crianças, adolescentes e jovens, estando, portanto, próxima às famílias, a escola tem condições de assumir o lugar de agente da transformação necessária.
Isso, porém, dificilmente acontece. A principal razão é que as políticas ambientais, inclusive os programas de educação ambiental, quase nunca dialogam com as políticas educacionais, que em geral são reduzidas às políticas escolares. Formam-se agentes socioambientais capazes analisar o impacto da desigualdade da distribuição de riqueza nas crises ambientais e projetar soluções sustentáveis que promovam as mudanças nas instituições, comunidades e bairros no sentido de novos padrões de produção e consumo. No entanto, estes agentes não contam com estruturas e equipes onde possam compartilhar seus conhecimentos, engajar as novas gerações em uma mudança de atitude, constituir alianças e desenvolver projetos que efetivamente promovam a transformação.
Enquanto isso, nas escolas, os temas ambientais continuam sendo ensinados de modo burocratizado, tendo como foco habilitar os estudantes a responder questões em provas. Quando muito, professores dedicados conseguem promover momentos mais práticos, com o plantio de hortas ou a reciclagem de materiais, o que é importante para a efetividade do processo de aprendizagem, mas tem pouco resultado em relação a uma visão integral da questão ambiental e à capacidade de projetar as mudanças necessárias para conquistar modos mais saudáveis, significativos e felizes de vida.
O pulo do gato é dado quando as escolas se articulam com as comunidades em que estão inseridas, tornam as questões socioambientais locais mola propulsora de seus currículos e engajam estudantes, professores e pais no processo de mudança.
Isto já acontece no campo há algum tempo. No Alto do Rio Negro, no Amazonas, desde os anos 90, a Federação das Organizações Indígenas articula assessorias para que as escolas de lá desenvolvam projetos pedagógicos que levem os estudantes a pesquisar suas comunidades, dialogar com os mais velhos, registrar os conhecimentos tradicionais sobre as relações dos seres humanos com a natureza e, a partir disso, constituir suas comunidades como espaços onde os jovens podem permanecer e se realizar.
Nos acampamentos e assentamentos da reforma agrária espalhados pelo país, várias das escolas públicas ali instaladas pesquisam as formas de produção camponesa, promovendo o diálogo da cultura local com o conhecimento científico, de modo a construir alternativas de vida sustentáveis.
É esta lógica que precisa ser trazida para as cidades brasileiras. Já existem algumas escolas que fazem esta opção com resultados muito significativos. São escolas que se aliam a associações de moradores, coletivos ambientalistas, agentes da saúde, pontos de cultura, pesquisadores e ativistas dos direitos humanos para engajar seus estudantes e professores em projetos que melhoram a vida da comunidade, garantindo as condições para que os jovens se desenvolvam integralmente. Os resultados destas experiências incluem a produção de livros e filmes com a história e a cultura local, atos e campanhas contra a violência, instalação de lixeiras, plantio de árvores nas ruas, hortas comunitárias, recuperação de praças com intervenções criativas e sustentáveis, bibliotecas comunitárias, reciclagem, reutilização e reaproveitamento de materiais, festivais temáticos, mobilização comunitária por parques lineares, entre muitos outros.
O que falta é uma política pública para que estas experiências se multipliquem e fortaleçam. Ou melhor, falta uma política que crie uma estratégia para a cidade. A integração dos programas ambientais com os programas educacionais seria um bom começo.
Vídeos


Helena Singer
Helena Singer é líder da Estratégia de Juventude America Latina na Ashoka. Também é consultora em projetos de pesquisa e formação em educação e inovação social.
Veja o Perfil CompletoArtigos