Como não ser substituído por um algoritmo.

Resenha de: “O Fuzzy e o Techie”, Por que as ciências humanas vão dominar o mundo digital, de Scott Hartley
No mundo cada vez mais tecnológico, é imprescindível a presença das artes, da literatura, da filosofia e das ciências comportamentais. As rápidas mudanças que marcam o futuro trazem uma demanda por agilidade intelectual, criatividade e curiosidade para explorar novos cenários.
Na sua última conferência anual para desenvolvedores, em maio, o Google anunciou o Duplex, seu novo projeto de inteligência artificial. Trata-se de uma solução capaz de fazer ligações e executar tarefas como marcar horário no cabelereiro ou reservar mesa no restaurante. A sofisticação do sistema impressionou a comunidade de tecnologia global e aqueceu as discussões sobre o futuro dos empregos com o avanço da automação.
Ainda não há consenso sobre o impacto da robotização na sociedade. Um estudo da Universidade de Oxford de 2016 previa que 47% dos trabalhos nos Estados Unidos poderiam ser automatizados. E em países em desenvolvimento, esse número poderia ser ainda maior: 65% na Argentina, 77% na China e 85% na Etiópia, por exemplo.
Diante desse cenário, como garantir um lugar no mercado trabalho? Para Scott Hartley, autor de “O Fuzzy e o Techie”, a aposta para se manter relevante em um futuro certamente mais automatizado não passa apenas pela superespecialização tecnológica. Pelo contrário: para se destacar, é preciso focar no nosso lado mais humano - em particular as competências interpessoais.
“Se olharmos para trás do véu de nossas melhores tecnologias, veremos que elas se distinguem justamente pela sua humanidade”, constatou o autor, que há anos acompanha de perto surgimento das tecnologias mais disruptivas e transformadoras. Consultor de tecnologia atuante no mercado financeiro, Hartley já passou por lugares como Google, Facebook e Berkman Center for Internet&Society da Universidade de Harvard.
Ele defende que para criar soluções que de fato importam é preciso uma compreensão profunda tanto de programação de softwares, quanto de contextos sociais; que é necessário dominar tanto os conceitos de estatística, quanto os de ética. Para ele, as sacadas mais pertinentes surgem de pessoas capazes não só de entender os algoritmos, mas também de questionar os preconceitos implícitos nos códigos. Gente que investigue não apenas como, mas por quê e o quê queremos melhorar.
O percurso de Hartley é um exemplo dessa combinação de saberes. Formado em ciências políticas pela Universidade de Stanford, ele se opôs desde cedo à divisão entre os estudantes das áreas técnicas (“techies”, no jargão da sua universidade) e humanísticas (chamados de “fuzzies” nos corredores de Stanford).
Seu pensamento ecoa o de importantes teóricos, como o novelista e físico inglês Charles Percy Snow, que em 1959, na Universidade de Cambridge, argumentou que que a distância entre a ciência e as artes não contribui para o progresso do conhecimento humano. Apresentada no livro “As Duas Culturas e a Revolução Científica”, a reflexão de Snow já convidava à construção de pontes entre diversas áreas do conhecimento.
De volta ao século 21, o livro de Hartley apresenta dezenas de casos bem-sucedidos graças à fusão de saberes. Um exemplo é o de Sean Duffy, que se formou em humanidades e, depois de passar pelo Google e pela IDEO, criou a Omada Health, uma plataforma que estimula melhores hábitos de saúde para pacientes com doenças crônicas, como diabetes. Segundo Hartley, foi justamente a capacidade de fazer as perguntas certas e entender sobre o comportamento humano que levaram ao sucesso desse sistema, que se diferencia de outros que adotam uma abordagem mais analítica.
Há ainda a história de Leslie Bradshaw, que estudou gênero, latim e antropologia e foi considerada pela revista Fast Company uma das cem pessoas mais criativas nos negócios. Ela cofundou a empresa JESS3, vanguarda da criação de produtos digitais. A instituição emprega jornalistas, filósofos e professores para melhorar a capacidade de análise de dados, levando em conta também contextos e vieses dos números.
O que essas trajetórias mostram é que, ao passo que a tecnologia se torna mais sofisticada, torna-se vital estimular duas capacidades: a de analisar contextos e a de fazer questionamentos pertinentes. E é aí que entram as ciências humanas como ferramentas que não podem ficar de lado na formação dos líderes do futuro.
É claro que isso não significa que as habilidades técnicas, as linguagens de programação e as competências representadas pelas ciências exatas vão perder importância. O que se reivindica é a urgência de trazer as humanidades para o centro do desenvolvimento tecnológico, gerando aplicações que respondam a perguntas bem-feitas. Tudo isso só será possível por meio de uma parceria entre os “fuzzies” e os “techies”, nas palavras de Hartley.
Só assim a tecnologia poderá nos ajudará a resolver problemas valiosos. Com uma abordagem multidisciplinar, estaremos mais próximos de proporcionar vidas mais saudáveis e felizes, de combater a pobreza e de encontrar maneiras justas de incorporar máquinas inteligentes e ágeis a nossas vidas.
Apesar de promissora, a transição, no entanto, não parece ser suave. A realidade atual é que as atividades criativas, de gente que é protagonista (e não só consumidora) da economia digital, não chega nem a 20% da força de trabalho nos EUA (e é bem menor por aqui). E, ao mesmo tempo, a economia digital já está destruindo ocupações tradicionais e rotineiras, como cita Martin Ford em seu livro “Robôs: a ameaça de um future sem emprego”. O futurista lembra que só o McDonald’s emprega 1,8 milhão de pessoas em 34 mil lojas ao redor do mundo.
Uma coisa parece certa: a humanidade está vivendo o início de uma era de profundas transformações, que exigirá readequações não só dos profissionais, como das nossas instituições.
Posts Relacionados
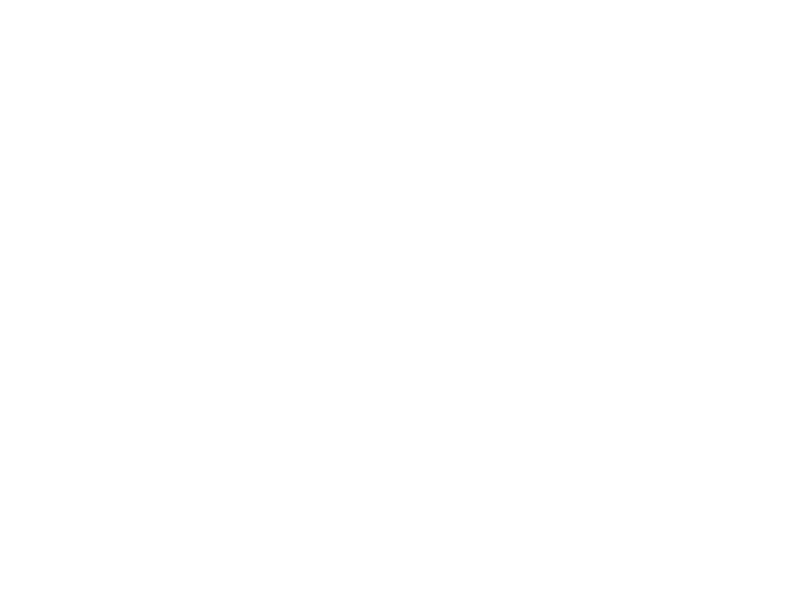
Como a mentalidade ágil pode ajudar? Artigo publicado pelo Eduardo Carmello.
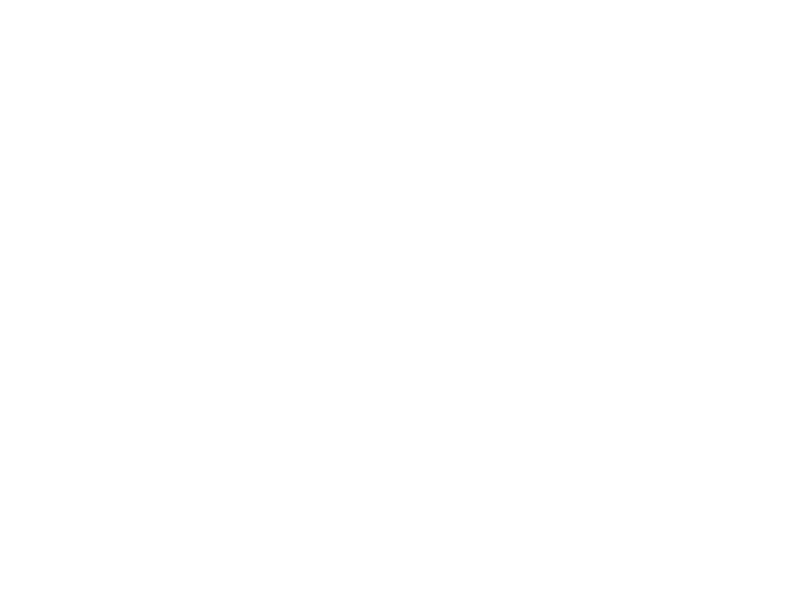
O povo é algoz de si mesmo. Artigo publicado pelo Lásaro do Carmo Júnior.
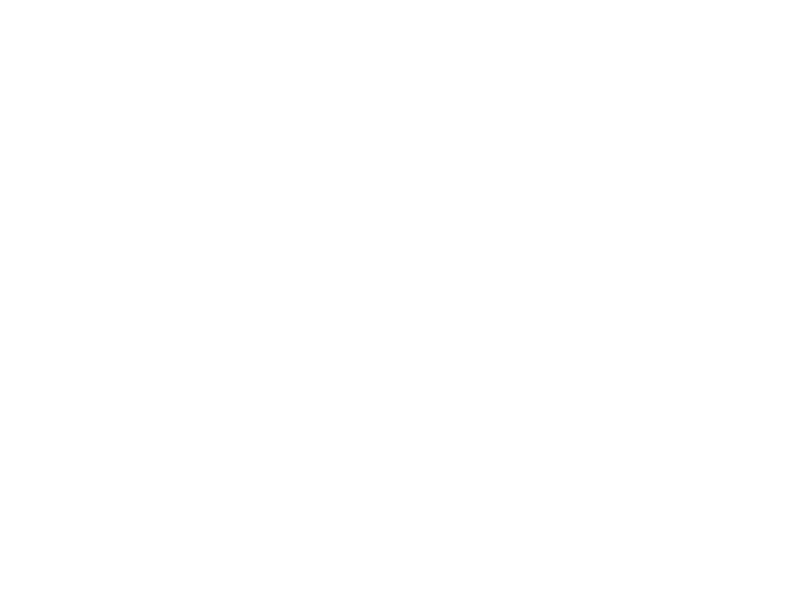
As maiores empresas e os desafios do varejo brasileiro. Artigo publicado pelo Alberto Serrentino.
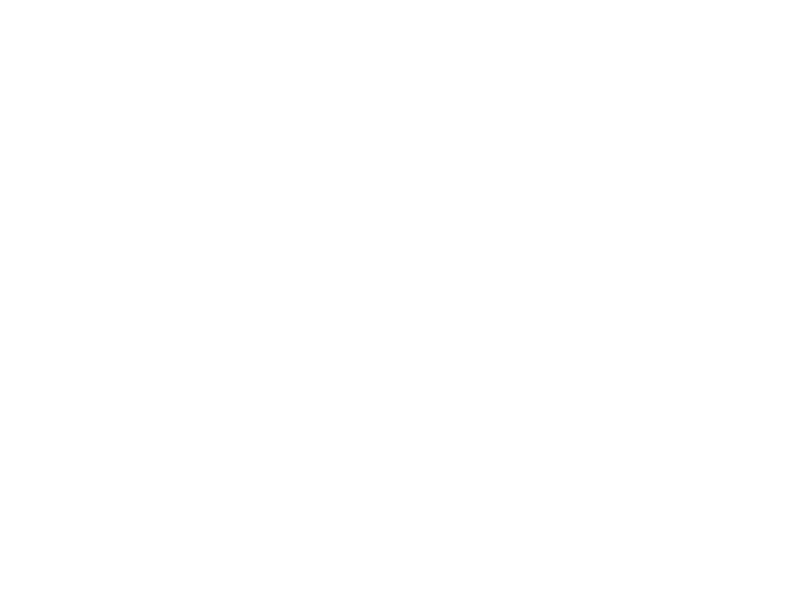
Autocuidado: veja como ele pode melhorar sua vida profissional. Artigo publicado pelo Alexandre Lacava.
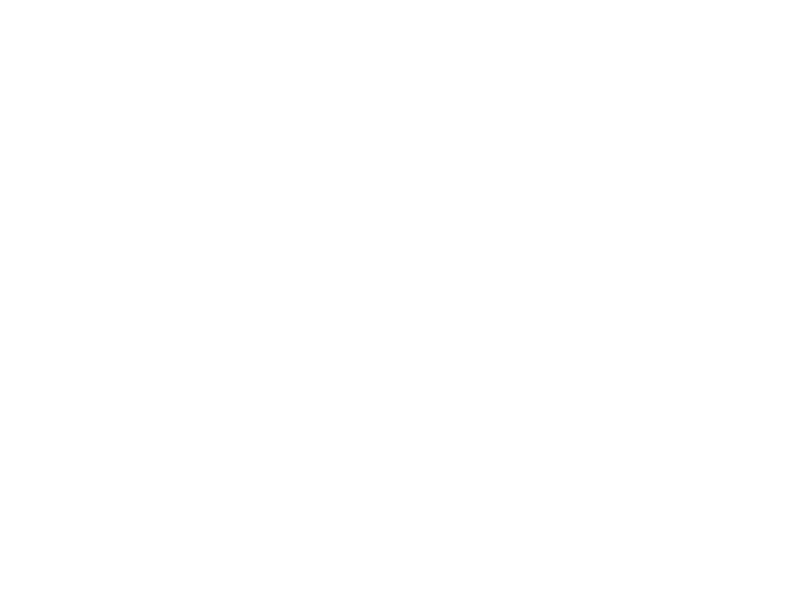
A responsabilidade socioambiental como fator nos investimentos do BNDES. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Artigo publicado pelo Paulo Rabello de Castro.
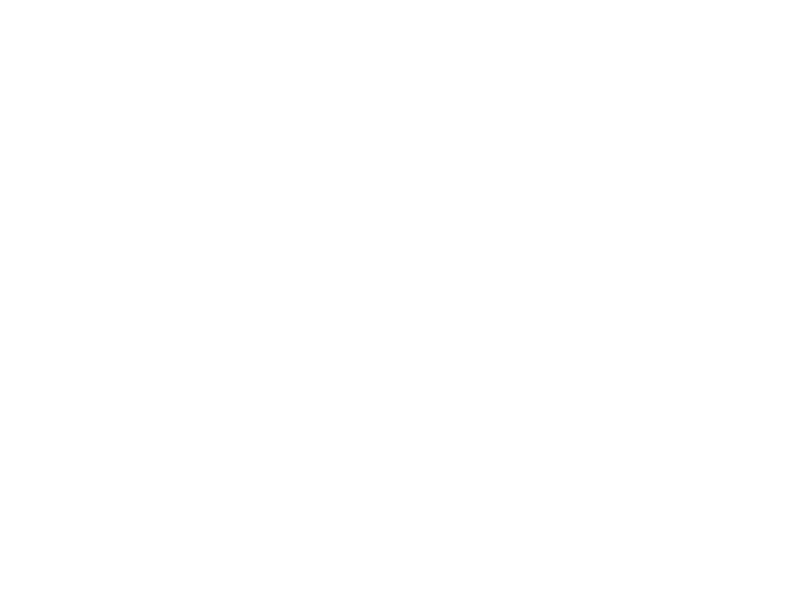
2020 marcará uma Nova Era no Mundo das Startups. Artigo publicado pelo Allan Costa.
