Os últimos presidentes e o próximo (publicado em 2018).

Ser presidente no Brasil não é uma atividade trivial. Nos últimos 30 anos vimos que a maior parte deles não estava à altura de suas funções. Sarney, tal qual Itamar Franco e Temer, acabaram seus mandatos em frangalhos. Collor e Dilma sofreram impeachment. Lula se reelegeu e fez seu sucessor, mas a um custo monumental que passou a pagar poucos meses atrás na prisão. Apenas Fernando Henrique logrou governar com uma agenda complexa e politicamente sensível e, ao mesmo tempo, se reeleger e sobreviver politicamente. Ou seja, o cargo de presidente não tolera voluntaristas, iniciantes, despreparados ou populistas movidos por bravatas.
Essas experiências nos permitem arriscar algumas inferências. A primeira delas é que a função primordial de um presidente – em um sistema político como o brasileiro – é de liderar e construir permanentemente maiorias. Partindo-se do pressuposto que o presidente sozinho não tem capacidade decisória, tem-se que o papel da presidência se assemelha a de um catalizador político. Cabe a ele viabilizar decisões costurando apoio de parcelas significativas da opinião pública, da mídia, dos órgãos de controle, das burocracias estratégicas e, por fim, do congresso nacional. Sem essa capacidade, sobra muito pouco ao presidente de plantão.
Outra lição aprendida é que em presidencialismos de coalizão quem se isola politicamente não sobrevive. Impeachment passou a ser uma arma potente das lideranças legislativas contra presidentes inábeis, tanto no Brasil como em vários países da América Latina – sendo o último caso o do peruano PPK, e, fora da região, a ex-presidente da Coréia do Sul Park Geun-hye -. Histórias recentes indicam que costurar rede de apoio ad hoc é mais custoso, mais instável e menos efetivo. Estruturar um programa político e uma coalizão partidária antes das eleições tendem a garantir melhores condições de governabilidade ao presidente. Trump parece ter entendido isso: desistiu de seguir apostando num minúsculo – o Partido da Reforma -, e viabilizou sua candidatura por um dos partidos dominantes nos EUA – o partido republicano.
Dado que a função principal do presidente é a de negociar e formar maiorias em vários temas e campos simultaneamente, é mandatório escolher as brigas. Dois, pelo menos, são os critérios para essa escolha: de um lado ser um tema estratégico e, de outro, ter chances consideráveis de ganhar a disputa. O presidente – como todo ator político – sofre restrições no que tange ao tempo e aos recursos de poder disponíveis. Assim, gastá-los com temas que não são estratégicos ou, ainda, arriscar perder uma disputa, são luxos em geral fatais para o presidente.
Embora os presidentes bem-sucedidos sejam eminentemente lideranças políticas, isso parece não bastar. Precisam ser também exímios gestores de crises. A natureza e a dinâmica das graves crises pelas quais todo país periodicamente enfrenta escapam do previsível e regrado campo das instituições. Entram em jogo variáveis menos conhecidas e que exigem do presidente agilidade e flexibilidade política. Presidentes sem experiência ou despreparados correm o risco de serem engolidos por essas crises. Crises mal geridas são pesos que os governantes carregam para o resto do mandato. Fernando Henrique soube lidar razoavelmente com a crise energética de 2000. Alckmin em São Paulo, assim como Ciro Gomes no Ceará, souberam lidar bem com crises hídricas desses estados. Temer acabou seu mandato na crise gerada pela paralisação dos caminhoneiros. Não soube antecipá-la, não soube entendê-la e não soube negociá-la. Resultado, seu mandato se encerrou de fato com essa crise.
Entre os candidatos na corrida eleitoral desse ano, poucos parecem ter condições de estruturar e liderar amplas coalizões e enfrentar as crises que se avizinham. Destacam-se nesse quesito Alckmin e Ciro Gomes, com razoável experiência em gerir grandes frentes políticas e gerenciar crises. Alckmin, nos 4 mandatos à frente do maior estado da federação, não deixa dúvida que consegue segurar as rédeas do governo. Certamente falta-lhe ousadia e criatividade, mas ai são outros problemas. Ciro Gomes liderou de forma bastante elogiada uma ampla frente política em seu estado, além de ter passado por experiências importantes como ministro na gestão federal tanto de Itamar Franco como de Lula. Sem dúvida mostrou fibra e energia mas, no seu caso, parece faltar serenidade para lidar com amplas coalizões.
O possível candidato do PT nessas eleições, Fernando Haddad, mostrou nos últimos anos sagacidade e visão de longo-prazo, mas não mostrou ainda ser capaz de liderar politicamente projetos complexos. Sua gestão à frente do Ministério da Educação foi reconhecidamente positiva, mas na prefeitura de São Paulo não soube superar o cerco que lhe armaram. Marina Silva, após anos como senadora e admirável gestão no Ministério do Meio Ambiente, vem reduzindo seu capital político e alianças a cada ciclo eleitoral. Seu fracasso em organizar um partido político, após uma performance de mais de 20 milhões de votos em 2010, é um sintoma evidente disso.
Bolsonaro dispensa comentários. Em 24 anos de mandato parlamentar não conseguiu mais do que a lealdade política de seus filhos e um grupo amplo de seguidores na internet. Faltam-lhe os requisitos elementares para um líder político em um país complexo e diverso como o Brasil. Cru e rudimentar, dá inúmeros sinais que desconhece a própria natureza da atividade política a qual se dedica. Nunca teve qualquer função de liderança ou de gestão na vida.
Quase 30 anos de experiência democrática oferece vários indícios sobre quem pode ser um bom candidato mas, ainda mais relevante, quem pode ser um bom presidente. Os eleitores não familiarizados com as questões da política e da gestão pública podem ter justificativas para não se atentarem a essas dimensões. O mesmo não pode ser dito das lideranças empresariais e sociais do país.
Posts Relacionados
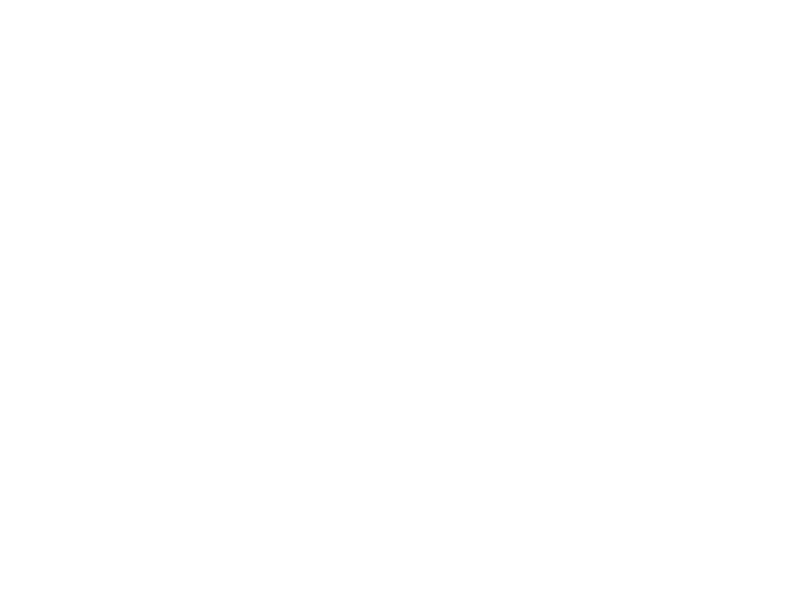
Os últimos presidentes e o próximo (publicado em 2018). Experiências passadas mostram que a função primordial de um presidente no Brasil é de liderar e construir permanentemente maiorias. Artigo publicado pelo…
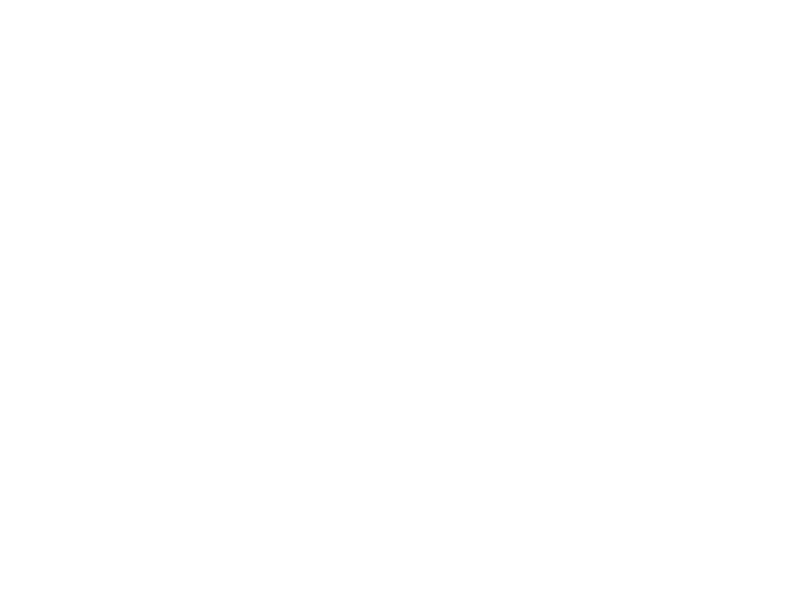
A responsabilidade socioambiental como fator nos investimentos do BNDES. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Artigo publicado pelo Paulo Rabello de Castro.
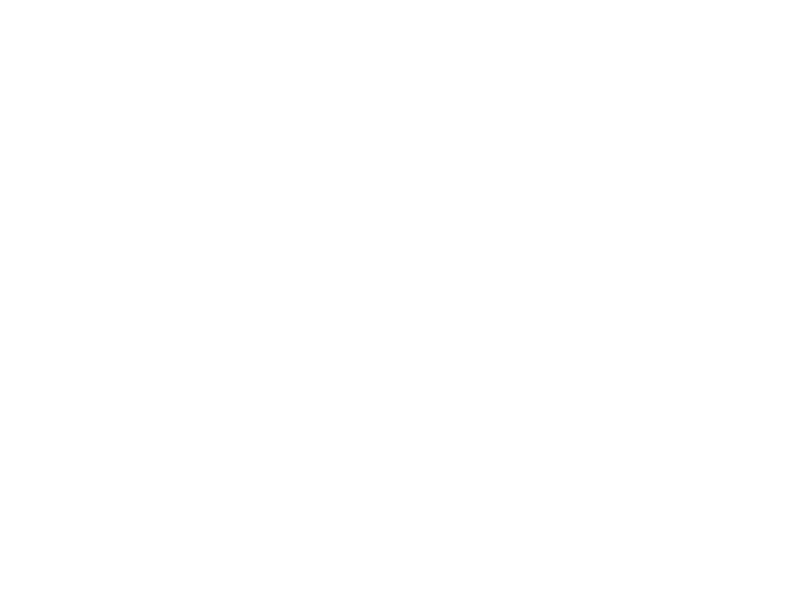
As projeções para 2020. Em 2020, Bolsonaro terá que superar o dilema entre áreas política e econômica para continuar reformas.
